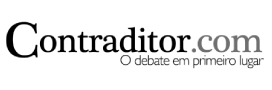“Rome was a society of legally constituted ranks or orders. (…) At all levels, status was expressed in nomenclature.” (Wilson, Stephen, The Means of Naming, Oxfordshire, Taylor & Francis, 2004, p. 20)
Uma das características marcantes da composição dos nomes próprios na Roma antiga é a sua função designativa do status do indivíduo na sociedade romana. Embora seja verdade que mesmo hoje certos nomes evocam determinado status social, os romanos fizeram da estrutura dos nomes próprios um verdadeiro símbolo da posição que a pessoa ocupava na complexa rede de relações políticas e sociais do mundo romano. Fortemente ligada a esse status estava a própria identidade da pessoa. Quanto mais elevada na hierarquia social, maior seu senso de identificação com o respectivo estrato. Nessa mesma medida, o aspecto externo da identidade individual se dava em função do status atribuído aos membros de cada estrato.
A noção de status, no contexto romano, tem pelo menos duas acepções. De um lado está a acepção jurídica do termo, bem conhecida entre civilistas e romanistas. O direito romano definia a posição jurídica da pessoa em função de três situações jurídicas fundamentais, cada qual representativa da relação do indivíduo com alguma coletividade, fosse a humanidade, a cidade ou a família[1]. A doutrina romanista, com base nas três espécies (minima, media, maxima) de alteração do estado da pessoa (capitis deminutio)[2], distingue entre estado de liberdade (status libertatis), estado de cidadania (status civitatis) e estado familiar (status familiae)[3], que indicavam, respectivamente, se o indivíduo, de acordo com a summa divisio iure personarum[4], era livre (liber, ingenuus) ou escravo (servus), se era cidadão romano (civis) ou estrangeiro (latinus, peregrinus) e, por último, se era subordinado a um chefe de família (alieni iuris) ou desvinculado da pátria potestade (sui iuris). Como se sabe, os romanos jamais elaboraram um conceito abstrato de capacidade de direito[5]. Mas a doutrina civilista posterior, em especial a pandectística alemã e a Begriffsjurisprudenz do século XIX, derivaram o conceito das fontes jurídicas romanas[6].
Mas em Roma o status da pessoa não era uma qualificação jurídica apenas. Era, acima de tudo, uma realidade político-social. A sociedade romana sempre foi, em maior ou menor grau, uma sociedade de ordens e estratos[7]. Uma manifestação dessa estratificação foi a secular distinção entre o patriciado, constituído pela aristocracia gentílica, e a plebe, composta pela grande massa de cidadãos romanos[8]. A designação “homem novo” (novus homo), em oposição ao “nobre” (nobilis), também foi, a partir da república, um sinal de status menos elevado dentro da elite social romana. Era “novus” o homem que, não tendo senadores entre os seus antepassados, se dedicava à vida política[9]. Em regra, era utilizado para designar o primeiro homem da família a ingressar no senado ou, mais especificamente, no consulado[10].
Houve muitas outras diferenciações no status político-social das pessoas. Tito Lívio, por exemplo, conta que foi Sérvio Túlio, sexto rei de Roma, quem celebrou o primeiro censo e dividiu o povo romano em cinco ordens (classis) formadas por centúrias (centuriae) e definidas de acordo com o patrimônio de cada cidadão e a sua função na ordem de batalha[11]. O objetivo teria sido fazer que os direitos de participação política fossem, dentro do possível, proporcionais aos deveres militares de cada cidadão: haec omnia in dites a pauperibus inclinata onera, deinde est honos additus (“todos os ônus suportados pelos pobres foram assumidos pelos ricos, que depois acumularam honrarias”)[12]. A versão de Cícero não é muito diferente[13]. É provável que esses relatos sejam apenas mitos e que a divisão em cinco ordens tenha sido feita no período republicano[14]. Mas eles revelam que a organização da cidade em função de determinado status econômico-político estava arraigado na tradição romana.
Essa organização da sociedade romana, bem como o status associado a cada ordem, variou bastante ao longo do tempo. Mas o período compreendido entre o fim da república e o principado é uma espécie de microcosmo dessa estrutura hierárquica, ou, pelo menos, sua manifestação mais fecunda. É o período em que Roma, após ter vencido a Segunda Guerra Púnica, se expande pela bacia do mediterrâneo, tornando-se o poder inconteste na região. A distribuição desigual do gigantesco botim da guerra, a ausência de oponentes capazes de rivalizar com Roma e o aumento do comércio transformaram as antigas estruturas político-sociais romanas[15]. Mas essa transformação não foi uma revolução. Muito pelo contrário, as mudanças sociais do período se caracterizam muito mais pela continuidade que pela ruptura com o sistema social anterior[16].
Entre os séculos I a.C. e III d.C., consolida-se uma espécie de pirâmide social composta de estratos relativamente bem definidos[17]. No ápice encontrava-se o imperador (imperator). A seguir, a ordem senatorial (ordo senatorius), da qual faziam parte os membros do senado e seus descendentes. Em seguida, vinha a ordem equestre (ordo equester), originariamente reservada para os cavaleiros do exército romano e depois destinada a fornecer administradores e funcionários ao imperador. A ordem dos decuriões (ordo decurionum) vinha a seguir, abrangendo as elites e autoridades provinciais. Escravos a serviço do imperador (familia Caesaris) e libertos ricos (liberti) também podiam fazer parte dos estratos mais elevados da sociedade, embora nunca chegassem a ingressar na ordem senatorial. Nos estratos mais baixos da sociedade romana se encontrava a grande massa composta por cidadãos, livres (ingenui) ou libertos (liberti), por estrangeiros (peregrini) e, principalmente, por escravos (servi)[18]. Porém soldados e magistrados, mesmo quando não fossem parte da ordem dos senadores, dos cavaleiros ou dos decuriões, faziam jus a certos privilégios[19]. Tratava-se de uma sociedade estratificada e complexa, culminada por uma seleta e privilegiada minoria: as cerca de 200.000 pessoas que compunham as três ordens mais elevadas correspondiam a menos de 1% da população, e a direção do Estado nunca coube a mais que umas poucas centenas de pessoas[20].
Salta aos olhos que a distinção mais importante, em especial no que diz respeito à atribuição de status, era a que existia entre as famílias detentoras de riqueza, poder e influência e o restante da sociedade. A partir do século I d.C., os membros dos estratos mais elevados da sociedade romana passaram a integrar a categoria dos honestiores (“mais honrados”), em contraposição aos demais cidadãos, denominados humiliores (“mais humildes”)[21]. A distinção, neste caso, era juridicamente relevante, em especial no que diz respeito à severidade das penas, sempre mais brandas para as pessoas de condição mais elevada. Assim, o humilior que provocasse um incêndio na cidade costumava ser condenado a ser devorado por animais, ao passo que o honestior que praticasse o mesmo delito era normalmente deportado a uma ilha[22]. Honestiores também eram deportados se violassem um sepulcro, enquanto humiliores podiam sofrer a pena de tortura se condenados pelo mesmo delito[23]. O humilior que cometesse o delito de injúria (iniuria) era chicoteado com varas, já o honestior podia ser temporariamente exilado ou sofrer sequestro de bens[24]. Pelo delito de especulação contra a economia popular o honestior ficava inabilitado a exercer o comércio, mas o humilior era condenado a trabalhos forçados[25].
A quase obsessão romana com o status, contudo, não impedia a mobilidade social. Na verdade, funcionava como uma espécie de mola propulsora da dinâmica social. E isso porque desde o mais humilde escravo até o mais renomado senador, todos podiam aspirar a uma elevação do seu status, se não para si próprio, pelo menos para seus descendentes. A manumissão de escravos era comum em Roma, e escravos competentes costumavam ser recompensados com a liberdade por um dos modos de manumissão quiritária, que conferiam também a cidadania. Um liberto podia enriquecer no comércio e ambicionar a nomeação para um cargo público. Um estrangeiro economicamente bem-sucedido podia sonhar com a cidadania romana, que lhe franquearia acesso a novas oportunidades de ascensão social. O cidadão romano de baixa condição podia nutrir a ambição fazer fortuna e ingressar na ordem equestre. Um cavaleiro bem posicionado politicamente podia ter a expectativa de se tornar senador, e assim por diante[26]. Na verdade, os estratos sociais eram bastante permeáveis para quem tivesse habilidade, conexões sociais e uma boa dose de sorte. Ademais, as famílias da ordem senatorial, a partir do principado, foram se extinguindo por falta de descendentes[27]. A necessidade de substituí-las fez que a hereditariedade do status senatorial se tornasse algo mais aparente que real e abriu espaço para a ascensão de famílias endinheiradas de estratos inferiores[28].
Exemplos históricos de elevação social não faltam. O imperador Vitélio (15-69 d.C.) era, de acordo com certos rumores, descendente de um sapateiro manumitido[29]. Pertinax (126-193 d.C.), o sucessor do imperador Cômodo, era sabidamente filho de um liberto[30]. Mesmo durante a decadência do império, a mobilidade social ainda era um fenômeno visível. Amiano Marcelino, militar e historiador romano do século IV d.C., relata (não sem certo desdém) várias ascensões meteóricas em seu tempo, como a do bispo Georgius, que era filho de um tintureiro[31], ou a de um certo Terêncio, padeiro que chegou a ser governador provincial[32]. Embora mudanças tão drásticas de status fossem a exceção[33], a ascensão social era uma possibilidade distante, porém aberta a todos[34]. Mas os aristocratas romanos desdenhavam os arrivistas. Trimalquio, o abastado e vulgar liberto idealizado por Petrônio em seu Satyricon[35], sintetiza a percepção que a alta aristocracia romana costumava ter dos “novos ricos”. Por outro lado, os novi homines que ascendiam à aristocracia por mérito próprio não perdoavam os fracassos políticos dos herdeiros das grandes famílias. É o que fez Cícero ao dizer que o aristocrata Marco Emílio Escauro, ao demolir a casa que adquirira do novus homo Caio Octávio, havia acumulado “múltiplas derrotas” e “ignomínia e calamidade”[36]. Na verdade, a “casa” era uma metáfora para a carreira política de Escauro, manchada por derrotas eleitorais e uma condenação por corrupção ativa[37].
Nesse mundo de relações assimétricas, eram vários os símbolos externos do status social da pessoa. A vestimenta, o uso do vernáculo, a decoração da casa, os assentos ocupados nos lugares públicos, a riqueza: tudo isso anunciava o estrato ao qual o indivíduo pertencia[38]. E o nome, ao projetar o status da pessoa, era o elemento vocativo desse conjunto de símbolos.
É dessa função do nome que trataremos no nosso próximo texto.
[1] Marrone, Matteo, Istituzioni di diritto romano, 3ª ed., Palermo, Palumbo, 2006, p. 189.
[2] Inst. 1, 16, pr.-3; Gai. 1, 158-163; D. 4, 5.
[3] Kaser, Max, Das römische Privatrecht – Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, München, Beck, 1955, vol. I, 1984, § 64 I-II, p. 235-236; Talamanca, Mario, Istituzioni di diritto romano, Milano, Giuffrè, 1990, p. 77 e ss.
[4] Gai. 1 inst., D. 1, 5, 3: “Summa itaque de iure personarum divisio haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi” (“A divisão principal do direito das pessoas consiste em todos os homens ou serem livres ou escravos”).
[5] Silveira Marchi, Eduardo César – Martins Rodrigues, Dárcio Roberto – Queiroz de Moraes, Bernardo B., As Bases Romanísticas do Código Civil Brasileiro – Traduções e estudo comparado, vol. I, São Paulo, YK, 2022, p. 33.
[6] Uma das principais sistematizações da matéria com base nas fontes romanas pode ser vista em Savigny, Friedrich Carl, System des heutigen römischen Rechts, vol. I, Berlin, Veit, 1840, §§ LXIV-LXXV, pp. 23-169.
[7] Alföldy, Geza, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden, Franz Steiner, 1984, trad. ao esp. de Troncoso, Victor Alonso, Historia Social de Roma, Madrid, Alianza, 1987, pp. 201-202.
[8] Acerca do tema, cf. Capogrossi, Luigi, in Talamanca, Mario (org.), Lineamenti di storia di diritto romano, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1989, p. 51-57 e Hornblower, Simon – Spawforth (ed.), Antony, The Oxford Classical Dictionary – The ultimate reference work on the classical world, 3ª ed., Oxford, Oxford University, 2003, pp. 1123-1124 (no verbete “patricians”) e 1196 (no verbete “plebs”).
[9] Cassola, Filipo, Nobili e uomini nuovi – Due tipi ideali, in Momigliano, Arnaldo – Schiavone, Aldo (org.), Storia di Roma – Roma in Italia, vol. I, Torino, Giulio Einaudi, 1988, p. 475 e ss.
[10] Hornblower, Simon – Spawforth, Antony (ed.), The Oxford Classical Dictionary – The ultimate reference work on the classical world, 3ª ed., Oxford, Oxford University, 2003, p. 1051 (no verbete “novus homo”).
[11]Para os detalhes, cf. Smith, William (ed.), Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, vol. III, London, John Murray, 1849, pp. 1188-1190 (no verbete “Tullius, Servius”).
[12] Tit. Liv. 1, 43.
[13] Cic. de re publica, 2, 22.
[14] Hornblower, Simon – Spawforth, Antony (ed.), The Oxford Classical Dictionary – The ultimate reference work on the classical world, 3ª ed., Oxford, Oxford University, 2003, p. 336 (no verbete “classis”).
[15] Acerca desse processo, em linhas gerais, cf. Alföldy, Geza, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden, Franz Steiner, 1984, trad. ao esp. de Troncoso, Victor Alonso, Historia Social de Roma, Madrid, Alianza, 1987, pp. 65-68.
[16] Mazza, Mario, in Talamanca, Mario (org.), Lineamenti di storia di diritto romano, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 1989, pp. 375-378.
[17] Cf. Hopkins, Keith, Élite Mobility in the Roman Empire, in Past & Present, 32 (1965), pp. 12-13.
[18] Para os detalhes, cf. Alföldy, Geza, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden, Franz Steiner, 1984, trad. ao esp. de Troncoso, Victor Alonso, Historia Social de Roma, Madrid, Alianza, 1987, pp. 158-198.
[19] Garnsey, Peter, Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire, Oxford, Clarendon, 1970, p. 245-258.
[20] Alföldy, Geza, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden, Franz Steiner, 1984, trad. ao esp. de Troncoso, Victor Alonso, Historia Social de Roma, Madrid, Alianza, 1987, pp. 199 e ss.
[21] Hope, Valerie, Essay Five – Status and identity in the Roman world, in Huskinson, Janet (ed.), Experiencing Rome – Culture, identity and power in the Roman Empire, Oxfordshire, Routledge, 2000, pp. 135 e ss.
[22] Ulp. 8 de off. proc., D. 47, 9, 12, 1.
[23] Paul. 5 sentent., D. 47, 12, 11.
[24] Hermog. 5 epit., D. 47, 10, 45.
[25] Ulp. 8 de off. proc., D. 47, 16, 6 pr.
[26] Acerca da mobilidade social em Roma, de modo geral, cf. Alföldy, Geza, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden, Franz Steiner, 1984, trad. ao esp. de Troncoso, Victor Alonso, Historia Social de Roma, Madrid, Alianza, 1987, pp. 203-206; Hope, Valerie, Essay Five – Status and identity in the Roman world, in Huskinson, Janet (ed.), Experiencing Rome – Culture, identity and power in the Roman Empire, Oxfordshire, Routledge, 2000, pp. 142-146; especificamente acerca da mobilidade no império, cf. MacMullen, Ramsay, Social Mobility and the Theodosian Code, in The Journal of Roman Studies, 54 (1964), pp. 49-53.
[27] Hammond, Mason, Composition of the Senate, in The Journal of Roman Studies, 47 (1957), pp. 75 e ss.
[28] Hope, Valerie, Essay Five – Status and identity in the Roman world, in Huskinson, Janet (ed.), Experiencing Rome – Culture, identity and power in the Roman Empire, Oxfordshire, Routledge, 2000, p. 142.
[29] Suet. Vit. 2, 1.
[30] Hist. Aug. Pert. 1, 1.
[31] Amm. Marcel. 22, 2, 4.
[32] Amm. Marcel. 27, 3, 2.
[33] Para mais relatos de ascensão social no principado e império, cf. MacMullen, Ramsay, Social Mobility and the Theodosian Code, in The Journal of Roman Studies, 54 (1964), p. 50.
[34] Hope, Valerie, Essay Five – Status and identity in the Roman world, in Huskinson, Janet (ed.), Experiencing Rome – Culture, identity and power in the Roman Empire, Oxfordshire, Routledge, 2000, p. 143.
[35] Petron. Sat. 26-78. Para uma análise literária, cf. Bagnani, Gilbert, Trimalchio, in The Phoenix, 8 (1954), pp. 77-91.
[36] Cic. de off. 1, 138.
[37] Henderson Jr., Charles, The Career of the Younger M. Aemilius Scaurus, in The Classical Journal, 53 (1958), p. 204.
[38] Hope, Valerie, Essay Five – Status and identity in the Roman world, in Huskinson, Janet (ed.), Experiencing Rome – Culture, identity and power in the Roman Empire, Oxfordshire, Routledge, 2000, pp. 136-137.