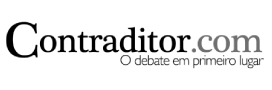Em oportunidades anteriores nesta Coluna, se debateu a busca por uma legitimação democrática da atividade da jurisdição, em uma visão processualizada. Essa possibilidade, encaminhada pelo processo, permite raciocinar toda a atividade da jurisdição sob o prisma da participação efetiva dos sujeitos processuais, como eixo estruturante de sua própria atuação, em perspectiva conferida pelo Estado Democrático de Direito.
Não apenas a [com]participação na construção das decisões, mas também a possibilidade de flexibilização de procedimentos, com intensa participação e influência das partes interessadas, demonstra ofertar contornos importantes à mencionada democratização.
O artigo 190 do CPC/2015 positiva no direito brasileiro as Convenções Processuais, permitindo que as partes em uma demanda jurisdicional (ou antes dela) promovam ajustes no procedimento, flexibilizando-o para melhor se adequar às peculiaridades da contenda. Apesar dos vários estudos de fôlego sobre a temática, de amplo conhecimento, relembre-se que as Convenções, tratam sobre a “influência da autonomia privada dos sujeitos processuais no regramento do processo, seja para alterar as disposições procedimentais, seja para dispor sobre ônus, poderes, faculdades e deveres, visando adaptar o processo às peculiaridades do caso concreto.”[1]
De igual forma, apontam para a possibilidade de que as partes “antes ou durante o processo e sem necessidade da intermediação de nenhum outro sujeito, determinam a criação, modificação e extinção de situações jurídicas processuais, ou alteram o procedimento.”[2]
A partir de tais premissas, percebe-se que a existência de uma convenção processual permite que as partes envolvidas em determinado litígio viabilizem a modificação das eventuais responsabilidades, ônus ou encargos que teriam em um litígio, causando a flexibilização do rito procedimental a ser observado, desde o início da demanda até a sua decisão final.
Fato é que, a partir da permissão ofertada pela legislação, a influência das partes sobre a atividade da jurisdição se torna ainda mais importante (e interessante), quando se raciocina sobre a possibilidade de que tal atividade leve mais a sério a legitimidade proporcionada pela participação de todos os sujeitos envolvidos nas decisões que ocorram no procedimento. A atuação das partes não se limitaria apenas a influenciar o conteúdo decisório, contribuindo também na adequação do procedimento que conduzirá até a decisão final.
A discussão em torno das convenções processuais apresenta uma complexa trama de objetivos que, a partir de uma análise mais apressada ou descontextualizada, pode suscitar na já conhecida dicotomia entre o monopólio das partes ou do Estado-juiz sobre o procedimento jurisdicional. Nessa dicotomia, tais sujeitos escolheriam, de forma individualizada, como se daria uma flexibilização procedimental para cada tipo de conflito.[3]
No entanto, é preciso lembrar que o estudo das convenções processuais “[…] preconiza modernamente, a possibilidade de partes e juiz, em clima de cooperação, ajustarem acordo de natureza exclusivamente processual a respeito da condução do processo e do momento da prática de determinados atos processuais”[4].
Afinal, não se trata de se sobrepor o poder do juiz (ou das partes) sobre a condução do procedimento, mas sim equacionar ambas as capacidades, de forma equilibrada, já que há de se “perceber como limite dos acordos processuais o respeito às garantias fundamentais do processo, especialmente quando se vislumbra no próprio direito privado a limitação de ‘vontade’ pela perspectiva da autonomia privada.”[5]
Nessa perspectiva, uma visão renovada da jurisdição deve deixar de lado o dogma de que o decisor é figura central habilitada a solucionar o litígio ou zelar pela forma estanque do procedimento, em substituição aos sujeitos parciais, admitindo-se que a solução deste conflito ocorra de modo conjunto entre o decisor e as partes envolvidas na contenda[6], seja na adequação procedimental ou na construção do conteúdo decisório.
A ideia tradicional de substitutividade da jurisdição, em caráter simplista, afasta das partes essa possibilidade de conduzirem em conjunto com o decisor a atividade jurisdicional, tanto para a resolução do conflito quanto para o resguardo da capacidade de se fazerem presentes no debate e condução discursivos, em prol da obtenção do conteúdo decisório final[7]. Nessa toada, o reconhecimento da vontade das partes é algo que se torna inescapável de uma visão democrática da jurisdição, em que não apenas o decisor toma para si as rédeas da dissolução do conflito ou resguardo de direitos.
Observando as convenções processuais como uma importante possibilidade de implantação de democratização na jurisdição, a partir da flexibilização da própria condução da atividade jurisdicional[8], o artigo 190 do CPC/2015 oportuniza a modificação procedimental pelas partes, objetivando adequar ao melhor deslinde da contenda posta, cabendo ao juiz controlar a admissibilidade e validade da convenção processual realizada, quanto à eventuais nulidades ou abusos de uma parte em relação a outra.
Nesse sentido, não haveria uma limitação legal para a realização de convenções processuais, entendendo-se que o artigo 190 do CPC/2015 carrega o caráter de cláusula geral de atipicidade[9] na realização destas, pois o CPC/2015 apresenta hipóteses típicas de convenções processuais ao longo de seu texto[10].
Na toada do raciocínio ora traçado, a concepção da flexibilização procedimental, proporcionada pelas convenções processuais das partes acerca das regras procedimentais, é mais uma etapa interessante para se conceber a jurisdição em uma perspectiva democratizada. Participação e influência das partes, tanto na construção dos conteúdos decisórios quanto na construção do procedimento adequado para solução da controvérsia, sempre em conjunto com o decisor imparcial.
[1] FARIA, Guilherme Henrique Lage. Negócios Processuais no Modelo Constitucional de Processo. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 40.
[2] CABRAL, Antônio do Passo. Convenções Processuais. 2ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 74. Cabral destaca sobre a nomenclatura de convenção ou acordo processual para sua designação, que ainda acrescenta como característica a pluralidade de sujeitos envolvidos, denotando que tanto as partes quanto o próprio Estado são (ou podem ser) componentes da convenção a ser realizada sobre a questão procedimental.
[3] “Muitas vezes parece se estar lendo, sob nova roupagem e novas técnicas, o embate entre os estatalistas-publicistas (precursores da socialização processual) e os privatistas-liberais, austro-germânicos, no século XIX (início do processualismo científico) em seus debates que culminaram na prevalência do entendimento dos primeiros, a partir da nova processualística dogmática de Oskar Bülow.
E mesmo a “ressurreição” dos negócios processuais (processrechtliche Verträge), com novo fôlego, não pode ser pensada como a pandectística alemã a estruturou, com categorias de acordos entre as partes que mediante uma vontade ilimitada poderiam gerar impactos no processo (como exemplificativamente, pactos de exclusão de um grau de jurisdição e de exclusão de competência, relativas às regras de procedimento, de inversão do ônus da prova, entre outras, e seus limites em face da intervenção judicial). Esse relevantíssimo fenômeno deve ser dimensionado em novo enfoque comparticipativo.” (NUNES, Dierle. Reformas Processuais: Estatalismo ou Privatismo? Por um modelo comparticipativo. Revista Brasileira de Direito Processual, n. 90, abr./jun. 2015, p. 145-146.)
[4] ANDRADE, Érico. As Novas Perspectivas do Gerenciamento e da “Contratualização” do Processo. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, n. 22, jan./jun. 2011, p. 223.
[5] NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Teoria Geral do Processo. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 519.
[6] “Com a crise de autoridade que se verifica no Estado Moderno, não se pode mais recusar a gestão cooperativa ou compartilhada do processo, com fundamento nos deveres acima indicados (cooperação e boa-fé). A completa desvinculação do juiz das deliberações que as partes entre si ou em conjunto com ele próprio tenham adotado é uma visão anacrônica e autoritária do processo. A expansão dos espaços de autonomia das partes e de respeito às deliberações adotadas em conjunto com o juiz é uma expressão da tendência de flexibilização da marcha do processo, para melhor adequá-lo às necessidades de preparação de uma decisão justa, reflexo do dever de colaboração imposto a todos os sujeitos do processo e inscrito no artigo 6º do Código de 2015.” (GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. vol. 1. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Gen Forense, 2015, p. 90.)
[7] “O juiz democrático não pode ser omisso a realidade social e deve assumir sua função institucional decisória, num sistema de regras e princípios com o substrato extraído do debate endoprocessual, no qual todos os sujeitos processuais e seus argumentos são considerados e influenciam o dimensionamento decisório.” (NUNES, Dierle. Processo Jurisdicional Democrático. Curitiba: Juruá, 2012, p. 200.).
[8] CADIET, Loïc. Os acordos Processuais no Direito Francês. Situação atual da contratualização do processo e da Justiça na França. In: CADIET, Loïc. Perspectivas sobre o Sistema de Justiça Civil Francesa. Seis lições brasileiras. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 103.
[9] Nesse sentido: REDONDO, Bruno Garcia. Negócios Jurídicos Processuais Atípicos no Direito Processual Civil Brasileiro: existência, validade e eficácia. 2019. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Direito, São Paulo, 2019, p. 101-102; FARIA, Guilherme Henrique Lage. Negócios Processuais no Modelo Constitucional de Processo. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 79.
[10] Por exemplo, a calendarização dos atos processuais (art. 191), a redução consensual dos prazos processuais (art. 222, §1º), a escolha convencional do perito em uma prova pericial, além da delimitação consensual de pontos controvertidos e questões de fato e direito a serem objeto de prova, na fase de saneamento (art. 357, §§2º e 3º).